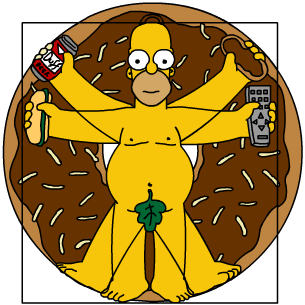Vou
dar início oficialmente ao ano de 2016 com a já tradicional lista dos filmes
vistos ou revistos no ano, do primeiro em diante, todos eles com micro (ou
quase micro) comentários e uma nota. Em 2016, vou abandonar os numerais e
partir para as estrelinhas que, como sempre, devem ser vistas com reservas. Em
primeiro lugar, não se pode condensar toda a avaliação sobre uma obra, qualquer
que seja, em um mero símbolo, o que seria de um reducionismo pedestre. A nota
(no caso, o asterisco que faz as vezes de estrela) serve, para os comentários
breves, como forma de ilustrar o que não coube no texto. Já para as análises
maiores, serve como referência para a futura postagem dos melhores do ano.
Neste
ano, passo a utilizar os seguintes parâmetros para quantificar as notas:
-
******: só para filmes
que passaram no teste do tempo, ou seja, somente para filmes que permanecem
excelentes mesmo após mais de 20 anos de seu lançamento;
-
*****: filmes ótimos;
-
****: filmes muito bons;
-
***: filmes bons;
-
**: filmes medianos;
-
*: filmes com variáveis
graus de ruindade.
Já os títulos seguirão com os códigos já adotados nos anos anteriores antes dos respectivos títulos:
*
Filmes vistos no cinema
**
Filmes revistos
Sublinhados: filmes que passaram no circuitão do RS
em 2016
######################################################################
1
- Cartel Land (Cartel Land, 2015,
na Netflix): documentário corajoso que se
arrisca a lançar um olhar de dentro para fora das milícias existentes nas
regiões fronteiriças entre o México e os EUA que buscam combater o
narcotráfico. No lado americano, o filme se limita a acompanhar um bando de
ianques malucos cujo objetivo primordial é impedir o ingresso de mexicanos ao
solo estadunidense, explicitando a natureza xenofóbica de suas motivações. Já
no lado mexicano, o filme surpreende ao conseguir se infiltrar em um milícia
com organização complexa e cujas missões, na maioria das vezes, infringem
qualquer limitação legal ou moral. O registro de uma situação tão complexa é
muito bem narrado pelo diretor Matthew Heineman, que nunca cai na armadilha de
dar ao espectador respostas fáceis sobre o assunto enfocado. Revoltante e
repugnante ao escancarar as ações desumanas tanto dos cartéis quanto daqueles
que têm como suposto objetivo combatê-los, Cartel Land é uma aula de jornalismo
investigativo. ****
2 - A Year In Burgundy (A Year In Burgundy,
2013, na Netflix): um tema muito interessante
(acompanhar, durante um ano, a vida dos produtores de vinho da Borgonha) é
transformado em basicamente um infomercial de vinícolas que poderia muito bem
resultar em algum daqueles vídeos institucionais que precedem uma visitação
turística às vinícolas. Com uma narração intrusiva e irritante, o diretor David
Kennard demonstra não possuir qualquer aptidão para o ofício, tornando o filme
chato e enfadonho por meio de suas observações que, em 99% do tempo, apenas
descrevem o que as imagens, por si só, tornam óbvio. Um porre no pior dos
sentidos. *
* 3 - Os Oito Odiados (The Hateful Eight,
2015): é notável a evolução de Quentin Tarantino como diretor no
decorrer dos anos. Isso fica evidente já na primeira cena, em que um Cristo
soterrado pela neve ganha um primeiro plano belíssimo enquanto a carruagem que
leva alguns dos personagens surge primeiramente ao longe e a tela e os sentidos
do público são totalmente enlevados pela magnífica trilha de Ennio Morricone.
Ironia do destino, justamente quando Tarantino demonstra maturidade, ele
retorna ao mesmo estilo de "filme de câmara" de Cães de Aluguel, seu
primeiro longa lançado nos cinemas e que serve de referência óbvia para Os Oito
Odiados. Na verdade, parece que Tarantino reencena Cães de Aluguel, tamanha é a
semelhança entre o niilismo intrínseco da trama e a falta de caráter de todos
os seus personagens. Os Oito Odiados possui um roteiro daqueles tarantinescos
que dá gosto de assistir na telona, principalmente os diálogos bem azeitados,
que poderiam ser ouvidos por horas a fio sem causar qualquer sensação de enfado
no espectador. É um filme daqueles em que todo o elenco ganha o seu momento
para brilhar e é difícil apontar quem está melhor em cena. Se o personagem de
Samuel L. Jackson rouba a cena e representa a melhor parceria do ator com
Tarantino desde Pulp Fiction, também Jennifer Jason Leigh e Walton Goggins
mereceriam, cada um, no mínimo, uma indicação ao Oscar. Tim Roth, Bruce Dern,
Demián Bichir, Michael Madsen e Kurt Russell, todos estão excelentes e ganham
do diretor/roteirista um texto irrepreensível que lentamente transforma os seus
personagens em criaturas tridimensionais no decorrer da trama. Os Oito Odiados
é daqueles filmes que dão orgulho de se assistir no cinema porque a forma
grandiosa com que o diretor filmou o roteiro (em película de 70mm, da mesma
forma que clássicos como Lawrence da Arábia) casa de forma perfeita com o
design de produção (o armarinho em que se passa a maior parte da trama é
inesquecível em sua profusão de detalhes a serem descobertos pelo público). O
roteiro, além de inteligentíssimo, presta homenagem aos romances de Agatha
Christie, reservando para o final, como é assinatura do diretor, um banho de
sangue gráfico que só enfatiza a óbvia intenção do diretor: enclausurar em um
ambiente claustrofóbico todas as faces dos EUA contemporâneo. E todas munidas
de armas carregadas. Compreendendo os objetivos de Tarantino, não haveria
desfecho mais lógico para esse embate. *****
4 - Nocaute (Southpaw, 2015, na Netflix): o que poderia resultar em um indicação ao Oscar para Jake
Gyllenhal se revelou um filme de esportes convencional até a medula. Apostando
nos clichês mais batidos do gênero (o lutador que faz as vezes de nêmesis do
protagonista chega a ser representado como um assassino!!!), o filme não
consegue se estabelecer como uma produção relevante tamanha é a vontade dos
produtores em entregar algo inofensivo para a audiência. Forest Whitaker faz
milagres com seu papel de mentor do protagonista, que Gyllenhall interpreta de
forma adequada (bem mais fisicamente do que dramaticamente, vale ressaltar).
Não é nada mais do que um primo bem pobre da franquia Rocky. **
5 - Um Ato de Liberdade (Defiance, 2008, na Netflix): filme de guerra baseado em fatos reais que nunca se decide
entre ser uma produção com temática mais séria, tipo A Lista de Schindler, ou a
diversão escapista de um longa de ação. Enquanto tenta dar gravidade à situação
de seus personagens, o filme fracassa em uma sucessão de clichês mal filmados,
mas quando investe em cenas de ação, a produção ganha estofo e é muito bem
sucedida. Dá para o gasto. ***
6 - Atari: Game Over (Atari: Game Over, 2014, na Netflix): divertido documentário que acompanha o desvendar da lenda
urbana nerd de que milhares de cartuchos do fracassado jogo baseado em E.T.
teriam sido enterrados pela Atari em um imenso lixão próximo à área 51. O
diretor Zak Penn, roteirista de X-Men: O Confronto Final, imprime ao longa uma
bem-vinda aura de entretenimento oitentista, o que garante ao filme uma fluidez
narrativa muito próxima do cinema ficcional. É emocionante resgatar as memórias
dos hoje veteranos geeks que criaram o fenômeno Atari no início dos anos 80, o
que resulta em depoimentos tocantes e engraçados na mesma medida. Se não se
aprofunda como deveria nos bastidores da ascensão e derrocada da emprega de
videogames, ao menos representa um exercício muito prazeroso de resgate de uma
época tão distante, mas ainda tão próxima na lembrança de quem a viveu. ***
7 - Chained (Chained, 2012, na Netflix): Vincent D´Onofrio oferece aqui uma de suas melhores
atuações em um papel assustador, daqueles de fazer gelar o sangue do público. O
seu psicopata é interpretado de forma perfeita pelo ator em uma interpretação
que faz par com sua inesquecível criação em Nascido Para Matar. A diretora
Jennifer Chambers Lynch (filha de David Lynch) confirma aqui a aptidão em criar
climas soturnos e sombrios, algo já demonstrado em seus trabalhos anteriores, principalmente
Encaixotando Helena e, principalmente, Sob Controle. O roteiro derrapa na
excessiva implausibilidade da trama e em uma reviravolta final besta que não
acrescenta nada à história, mas é um suspense que prende a atenção do começo ao
fim. ***
8 - O
Eclipse (The Eclipse, 2009, na Netflix): instigante híbrido entre drama,
estudo de personagem e história de fantasmas, é um filme que consegue funcionar
em todas as suas frontes. Utiliza muitíssimo bem a sua porção sobrenatural para
sublinhar o arco dramático de seu excelente protagonista (Ciarán Hinds, que
deveria ser mais bem aproveitado por Hollywood). Os sustos são muito eficientes
e nunca se sobrepõem à história que pretende contar (a superação do luto por
seu personagem principal). As locações irlandesas são belíssimas e contribuem
para a atmosfera lúgubre que impregna cada fotograma do longa. na Um legítimo
tesouro escondido que merece muito (e urgentemente) ser descoberto. ****
9 - A Garota Morta (The Dead Girl, 2006, na Netflix): intrigante drama que parte da descoberta do corpo de uma
jovem assassinada para revelar o impacto da morte na vida de diversos
personagens interpretados por um baita elenco (Brittany Murphy, Toni Collette,
Piper Laurie, Giovanni Ribisi, Rose Byrne, James Franco, Mary Steenburgen,
Marcia Gay Harden, Josh Brolin). A abordagem é original e é estruturada de
forma orgânica e inventiva, sem se preocupar nunca em transformar o drama dos
personagens em um suspense hollywoodiano. Pelo contrário: o foco nunca é
desviado de seus personagens, cada um com uma história própria e interessante.
Bem interpretado e dirigido, é daqueles filmes que deveriam ter ganhado muito
mais destaque na época de seu lançamento. ****
10 - R.I.P.D. - Agentes do Além (R.I.P.D.,
2015, na Netflix): tentativa bizarra de copiar a
franquia Homens de Preto trocando os alienígenas por fantasmas, é um fracasso
abissal tanto de concepção quanto de execução. Nada dá certo aqui. Os efeitos
especiais são pavorosos e se aproximam dos primórdios da experimentação do CGI
no cinema. É difícil imaginar como uma produção tão equivocada ganhou sinal
verde do estúdio e ainda atraiu gente do calibre de Ryan Reynolds (péssimo),
Mary-Louise Parker (a única coisa boa do filme) e, principalmente, Jeff
Bridges, que repete pela enésima vez a figura do veterano barbudo e beberrão
que grunhe as suas falas (a mesmíssima composição vista ano passado no
catastrófico O Sétimo Filho, para lembrar só a última bola fora do ator). Sem
graça, mal feito e com um roteiro estúpido que em nenhum momento parece querer
se distanciar da cópia descarada, é um fracasso de proporções sobrenaturais em
sua ruindade. *
11 -
Finders Keepers (Finders Keepers, 2015, na Netflix): documentário que parte
de um caso real tão bizarro que parece saído da mente criativa de David Lynch
ou dos irmãos Coen. Diverte em retratar o absurdo de sua premissa e a bizarrice
de seus protagonistas, mas é quando se arrisca a aprofundar as as motivações
por trás da disputa judicial por um membro amputado membro amputado que o filme
sai da mera caricatura para se transmutar em um triste estudo sobre perdas e
desilusões. Eficiente como entretenimento e reflexão, é um filme que funciona
até mesmo para quem não aprecia documentários. ***
* 12 –
Creed – Nascido Para Lutar (Creed, 2015): quando foi lançado Rocky
Balboa em 2006, o longa escrito e dirigido por Stallone foi recebido
instantaneamente com surpresa e positividade por público e crítica. Afinal de
contas, 16 anos após Rocky V (1990), o personagem mais emblemático do astro de
ação finalmente ganhava um desfecho digno para sua trajetória cinematográfica,
encerrando um arco dramático de forma sensível e respeitosa. Por isso, foi com
incredulidade que o mundo recebeu a notícia sobre a existência de Creed, um
projeto que buscaria dar continuidade à franquia escanteando para o papel de
coadjuvante aquele que sempre foi o protagonista (e força motriz) da série.
Pois, desafiando toda e qualquer previsão (das mais pessimistas às mais
otimistas), Creed – Nascido Para Lutar entra no ringue para nocautear o
público. O resultado conseguido pelo jovem diretor e co-roteirista Ryan Coogler
salta aos olhos porque funciona em todos os níveis, reenergizando a cinessérie
de maneira acertadíssima sem nunca soar um mero enlatado concebido para
arrecadar moedas dos fãs inveterados. Partindo de uma premissa que ecoa a mesma
estrutura de Rocky – Um Lutador (1976), Coogler introduz um novo personagem
principal na pele do filho de Apollo Creed (o ótimo Michael B. Jordan, que já
protagonizara Fruitvale Station: A Última Parada, o sensacional filme de estreia
do diretor) e dá ao público o ponto de partida ideal para o recomeço da
franquia (Creed consegue funcionar como sequência direta e reboot da série). Merece
especial destaque a introdução de uma personagem feminina forte e com
personalidade e conflitos próprios, muito distante do proverbial arquétipo do
mero interesse amoroso em que Hollywood por tanto tempo enclausurou as mulheres
em suas produções. A espantosa energia empregada por Coogler na direção do
longa (a primeira grande luta é filmada em um plano-sequência que, sem cortes,
apresenta-se eletrizante) é realçada pelas excelentes fotografia, direção de arte e trilha sonora
(e é notável como as novas partituras conseguem emular o clima da franquia sem
cair na armadilha de copiar o tema clássico de Rocky, Gonna Fly Now, cujos
acordes são bem guardados até serem utilizados de forma econômica, mas
perfeita, no clímax, o que garante uma mini-catarse na sala do cinema). Stallone,
por sua vez, alçado à condição de treinador do novo aspirante a campeão dos ringues,
consegue imprimir ao velho Rocky novas e muito bem-vindas nuances ao seu velho personagem.
Aliás, não há vidente no mundo que conseguiria prever que Stallone viria a ser
considerado, em pleno 2016, um dos favoritos ao Oscar por sua atuação. E o veterano
merece todo e qualquer prêmio que conseguir arrecadar. Nunca esteve tão bem em cena.
Stallone consegue emocionar e demonstra possuir, por baixo da carcaça de
brutamontes que lhe deu fama (e superando as limitações dramáticas escancaradas
por mais de quatro décadas de carreira), que existe ali um ator de verdade (e
dos bons). Quem diria. *****
* 13 –
Steve Jobs (Steve Jobs, 2015): um dos maiores pecados do Oscar 2016 é a
ausência de Aaron Sorkin entre os indicados a Melhor Roteiro Adaptado. É o
texto do roteirista de A Rede Social e do seriado The Newsroom a verdadeira
estrela do filme e o seu ponto mais forte. Fugindo da estrutura esquemática das
cinebiografias (algo que, juntamente com a atuação pavorosa de Ashton Kutcher,
enterrou o fraco Jobs, de 2013), Sorkin ousa ao dividir os três atos do filme
explicitamente, cada um ambientado em um momento diferente da vida de Steve
Jobs (justamente nos minutos que antecedem o lançamento de três de seus mais
icônicos produtos). Essa opção narrativa, se por um lado abdica do registro
jornalístico ao afastar o roteiro da recriação de situações como realmente
ocorreram, por outro dá liberdade criativa ao autor para misturar
acontecimentos e personagens, dando à história que pretende contar fluidez e
criando um arco dramático bem mais claro e específico para o biografado. O
grande atrativo do longa também é seu calcanhar de Aquiles junto ao público
médio. O famoso “walk and talk” dos roteiros de Sorkin aqui é elevado à enésima
potência, o que pode inquietar o espectador desacostumado com a profusão e
velocidade dos excelentes diálogos proferidos pelos personagens. Acertadamente,
o roteiro encontra na direção de Danny Boyle um ótimo maestro para conduzir
essa orquestra de palavras: o cineasta torna tudo muito dinâmico e, se não
abusa dos rococós estilísticos, sabe o momento certo de jogar na tela
hipertextos e efeitos visuais. Michael Fassbender está sensacional e demonstra
definitivamente que não é a similaridade física com o biografado que garante
uma boa caracterização de um personagem real. Seu Steve Jobs é apresentado como
um visionário cujas falhas de caráter e personalidade dificílima o tornavam
quase impossível de conviver, mas em nenhum momento deixa de ser uma pessoa
fascinante (não apesar, mas em virtude de seus defeitos). A base moral do longa
(e espécie de consciência do protagonista) é personificada por uma ótima Kate
Winslet, que consegue criar uma personagem complexa apenas através de suas
interações com Fassbender e sem necessidade de criar um background expositivo
sobre seu passado. Um filme que desmistifica Jobs sem tirar-lhe o fascínio.
****
14 – What
Happened, Miss Simone? (What Happened, Miss Simone?, 2015, na Netflix):
produção original da Netflix, é uma bela homenagem a Nina Simone, uma das
maiores divas da música americana e sua indicação ao Oscar de Melhor
Documentário serve de oportunidade para conhecer uma história de vida fascinante,
mas pouco lembrada pela mídia moderna. Mais do que sua voz potente, o
documentário acertadamente busca nos acontecimentos por trás do mito a base de
sua narrativa, formando um mosaico de registros íntimos e de performances que
formam também um ótimo painel da segunda metade do século passado. Mostra como
o ativismo político de Nina na campanha pelos Direitos Civis dos afroamericanos
na década de 60 lhe atraiu holofotes ao mesmo tempo em que ocasionou estragos em
sua carreira artística por conta da retaliação dos segmentos mais conservadores
dos EUA. A sua personalidade opinativa e provocadora culminou com um exílio
artístico e pessoal que, com ajuda de problemas psiquiátricos, quase eclipsaram
para sempre o trabalho de uma das maiores intérpretes americanas de todos os
tempos. Com trechos de shows que só evidenciam a genialidade da biografada, o
filme consegue aliar sentimento e razão em uma narrativa que oscila muito bem
entre a homenagem e a investigação da personalidade de sua personagem central.
Assim como foi resgatada do ostracismo em seus últimos anos de vida, esse
belíssimo “What Happened, Miss Simone?” funciona também como resgate de uma
carreira e de uma figura humana inesquecíveis não só para a música, mas para a
história americana recente. ****
* 15 –
A Grande Aposta (The Big Short, 2015): há muitos méritos nesse registro
curioso sobre a crise financeira de 2008 sob a ótica de quem lucrou com o crash
da economia americana. A produção adota um tom acertado de humor para dar mais
fluidez a uma história que, em seu cerne, é chata demais para toda e qualquer
pessoa que não trabalhe no meio financeiro. Parte do elenco entendeu muito bem
a proposta de Adam McKay (O Âncora, Os Outros Caras) em imprimir um registro
divertido a um episódio cabuloso da História recente, principalmente Steve Carell
e Christian Bale, que constroem, cada um, personagens fascinantes e que
alternam o tom dramático e o cômico com muita propriedade. O principal
responsável pelo êxito de A Grande Aposta, porém, é mesmo o seu diretor. McKay
consegue dar ao longa um ritmo alucinante e as inserções metalinguísticas são
especialmente bem sacadas, como as pausas que emprega na narrativa para
decifrar os termos técnicos mais complicados utilizando rostos conhecidos como
Margot Robbie, Selena Gomez e Anthony Bourdain. O problema é que o esforçado
roteiro, escrito pelo diretor em parceria com Charles Randolph (Amor e Outras
Drogas), por mais que consiga se desvencilhar da terminologia técnica do livro
homônimo que adapta, ainda assim não consegue desviar de certas armadilhas narrativas.
A maior delas é que, mesmo explicando aqui e ali o significado de certas
operações financeiras, o excesso de diálogos por vezes torna o assunto
discutido impossível de ser decifrado por quem não lida com a área. Pior: por
vezes todo o blábláblá dito na tela se torna simplesmente chato demais para ser
acompanhado com a devida atenção pelo público leigo (Margin Call – O Dia Antes
do Fim, de 2011, e 99 Homes, de 2015, conseguem falar sobre o mesmo tema de
forma muito mais acessível e até mais incisiva sem se perderem na tentativa de
lecionar Economia para a plateia). A excessiva metragem (mais de duas horas que
poderiam tranquilamente ter 40 minutos a menos) e o excesso de personagens
(muitos deles com apenas meia dúzia de falas) dilui a empatia que o filme
deveria almejar. A ausência de um (ou dois ou, vá lá, três) personagem que
ganhasse um arco narrativo central e que norteasse de forma mais clara a trama
cobra o seu preço e transforma A Grande Aposta em um grande mosaico de figuras
que nunca ganham profundidade suficiente para que nos importemos com eles. Um
bom filme, mas um tanto superestimado. ***
* 16 –
Carol (Carol, 2015): em um mundo perfeito, a trama central de Carol
seria descrita como uma história de amor sem que o sexo de suas protagonistas
sequer precisasse ser citado. Muito, mas muito, distante de um tratado sobre a
homoafetividade, é um filme que traz às telas um dos romances mais realistas e
belos da cinematografia recente. Prova disso é que o roteiro em momento algum
soa panfletário, tratando o amor entre suas personagens centrais como algo
natural em sua essência (o que, paradoxalmente, cumpre função ainda mais certeira
no combate ao preconceito, vale dizer). Cate Blanchett transpira classe e
maturidade, um contraponto perfeito à doçura que Rooney Mara impregna em sua
personagem, e a química que as duas conseguem apresentar em cena é incendiária
em sua alquimia perfeita. Plasticamente impecável (o jogo de cores proposto
pela direção de arte e pelos figurinos é essencial para o resultado da ótima
fotografia), o filme de Todd Haynes remete a outro título do diretor, Longe do
Paraíso, que também utilizava a beleza cromática dos folhetins dos anos 50 para
abordar o jogo de aparências que sempre existiu sob a superfície viçosa de
nossa sociedade. Mais do que o deslumbre visual, no entanto, Carol se destaca
pela humanidade intrínseca à sua trama. Poucas vezes um “eu te amo” soou tão
naturalmente emocionante na telona. Num mundo perfeito, mais do que uma
indicação a Melhor Filme no Oscar 2016, Carol seria um dos candidatos favoritos
a levar a estatueta para casa. Mas estamos muito longe de viver em um mundo
perfeito. *****
17 –
Perrier´s Bounty (Perrier´s Bounty, 2009, na Netflix): produção irlandesa
que, à primeira vista, conta com todos os elementos necessários para entregar
uma comédia policial memorável, no melhor estilo Jogos, Trapaças e Dois Canos
Fumegantes. Entretanto, o excelente elenco (Cillian Murphy, Jim Broadbent,
Brendan Gleeson, Domhnall Gleeson, Liam Cunningham e Gabriel Byrne como o narrador)
é desperdiçado em papeis unidimensionais amparados nos mais batidos clichês do
gênero. A trama é derivativa e não apresenta qualquer insight inspirado que
justifique a existência da produção. O humor quase nunca funciona, mas o
talento de Brendan Gleeson e Jim Broadbent ao menos consegue arrancar algumas
risadas aqui e ali para compensar o marasmo geral do roteiro. **
* 18 –
Califórnia (2015): poucas vezes o cinema nacional tratou a geração
crescida nos anos 80 com tanto carinho. Aliás, o tom nostálgico do longa de
Marina Person é visível já na primeira cena, que percorre o quarto da
protagonista de forma a explicitar toda a sorte de referências pop oitentistas
que tanto fizeram a cabeça da juventude que cresceu ouvindo Blitz (em vinil!) e
revendo E.T. – O Extraterrestre (no cinema!). Prejudicado pelas atuações
fraquinhas do elenco adolescente e por certo artificialismo de certas cenas,
Califórnia cresce quando Caio Blat entra em cena, compondo um personagem
crível, doce e trágico. É o ator, com uma atuação delicada e econômica, que
mais acerta no tom agridoce de nostalgia proposto pelo roteiro. A trama de
transição da infância para a adolescência não é original e descamba aqui e ali
para os clichês, mas é inegável a empatia que estabelece para o público que
viveu a época em que o Whatsapp era o telefone da casa, o Google Maps era de
fato um mapa e o Facebook era vivenciado dentro de nossas próprias interações
sociais em carne e osso. Especialmente feliz é a trilha sonora, que mistura The
Cure, New Order, Titãs e David Bowie, formando um mosaico de lembranças sonoras
para marmanjo algum por defeito. Um belo, mesmo que imperfeito, registro de uma
década tão próxima para quem a viveu, mas que, vejam só, já virou ambientação
de época. ***
* 19 –
Spotlight: Segredos Revelados (Spotlight, 2015): estranho no ninho
dentro das produções cinematográficas modernas (e principalmente dentro da
prática do jornalismo de hoje em dia), Spotlight evoca uma época em que a
profissão de jornalista exigia disposição investigativa para ir atrás da
verdade escondida pelas manchetes ou pelos factoides que tomaram de assalto os
portais de notícia na última década. Emprestando de forma adequada a mesma
estrutura de clássicos como Todos Os Homens do Presidente, o filme
acertadamente foca muito mais no processo de investigação da notícia do que na
polêmica gerada por ela. O mote da produção, muito mais do que as óbvias
implicações decorrentes do caso de abuso de menores por padres da Igreja
Católica, é a responsabilidade do jornalista ao desvendar e propagar a verdade
por trás da notícia, o que é uma abordagem, por si só, corajosa em um mundo que
sobrevive à base de cliques e curtidas em redes sociais. O elenco inteiro está
sensacional em cena e destacar um ator em detrimento de outro é um pecado
imperdoável (a opção mais justa seria premiar todos os atores de uma vez só,
não um/uma ator/atriz). Mesmo o seu ritmo às vezes monótono funciona à intenção
central do longa. Não há cenas climáticas ou momentos em que um ator ou atriz
profere um discurso emblemático com o propósito óbvio de fazer jus a alguma
indicação a prêmio. Pelo contrário: Spotlight é um filme levado de forma tão
acadêmica que seu formalismo consegue se destacar da produção moderna
justamente por seu realismo soar tão fora do esquadro nos dias de hoje. Um
alento e um aceno a tempos em que o cinema era bem mais direto em sua abordagem
e não precisava gritar para o público as suas propostas. ****
20 –
Deathgasm (Deathgasm, 2015): a ideia de entregar um misto de comédia e
terror com personagens metaleiros não é original, mas é o tipo de premissa que
automaticamente soa simpática aos fãs do gênero. Pena que essa produção
neozelandesa não vá além da premissa bacana (uma dupla de roqueiros que
descobre um vinil que consegue conjurar um demônio para a Terra). Na maior
parte das cenas, o humor simplesmente não funciona e apela para tiradas óbvias,
dignas de programas popularescos de televisão, ao passo que o roteiro, lá pelas
tantas, simplesmente abdica da possibilidade de fazer qualquer sentido. Pelo
menos, a maquiagem gore funciona que é uma beleza (o diretor foi responsável
pelos efeitos especiais de O Hobbit, Os Vingadores e a refilmagem de O Grande
Gatsby). **
21 – The
Hunting Ground (The Hunting Ground, 2015, na Netflix): extremamente relevante
do ponto de vista temático (escancarar como a onda de estupros em universidades
americanas conta com uma blindagem da mídia e de políticos ianques), é um
documentário que causa repulsa e revolta com facilidade. Muito bem dirigido, é
um filme que consegue dar às vítimas de abuso um rosto e uma voz, ao mesmo
tempo em que escancara como o sistema de fraternidades universitárias, que é
retratado com tanta simpatia pelas comédias americanas, funciona como uma
verdadeira organização criminosa disposta a varrer para debaixo do tapete toda
e qualquer ocorrência que possa ser vista como ameaça à reputação de seus
membros. Tanto em tema quanto em execução, é um documentário que merecia ao
menos uma indicação ao Oscar 2016 da categoria. Não levou, mas pelo menos a
canção que acompanha os créditos (defendida com talento por Lady Gaga) foi
lembrada pela Academia. Um tiro certeiro no coração de uma classe abastada que
se julga acima de qualquer suspeita. ****
22 – 99
Homes (99 Homes, 2014): ótimo registro sobre a falência da bolha
imobiliária que levou à última crise econômica mundial, investe em um viés
intimista que prescinde de explicações didáticas ou terminologia técnica (os
principais problemas de A Grande Aposta, por exemplo) para dar o recado sobre a
derrocada do capitalismo moderno e suas nefastas consequências sobre o cidadão
comum. Andrew Garfield, o Homem-Aranha que não deu certo nas bilheterias, nunca
esteve tão bem em cena e seu desespero em tentar salvar a família é palpável,
uma atuação que deveria ter sido lembrada nas premiações de final de ano. Não
menos incrível é a interpretação de Michael Shannon, simplesmente irretocável
como o alpinista social que vê na crise uma forma ideal de ascender
socialmente. Tragédia anunciada, a trama equilibra com muita eficiência a
jornada do herói clássica com o cinismo intrínseco de nossa época. Um filme
envolvente e muito importante do ponto de vista temático. ****
23 – Os
Instrumentos Mortais: Cidade dos Ossos (The Mortal Instruments: City Of Bones, 2013,
na Netflix): uma fantasia moldada para os fãs adolescentes da série
Crepúsculo que possui ótimas ideias em sua gênese, mas que não sabe
desenvolvê-las a contento. Prefere atirar para todos os lados sem acertar quase
nenhum alvo em que mira. Apesar da direção de arte se sobressair (a Cidade dos
Ossos, que ganhou o subtítulo da produção, é um trabalho muito bom de design,
apesar de ocupar somente alguns parcos minutos da trama) e alguns momentos do
roteiro sugerirem uma trama com possibilidades originais, o produto final é
prejudicado pela abominável opção em tentar repetir o triângulo amoroso forçado
de Crepúsculo. A trama, inclusive, literalmente congela para que sejam
incluídos os desnecessários interlúdios amorosos do trio, o que soa enervante e
dispensável. Para piorar, o principal partido da protagonista é “interpretado”
por um bizarro Jamie Campbell Bower, talvez o pior ator já revelado por uma
produção do gênero. Do visual à sua hilariante tentativa de atuação, todas as
cenas em que aparece funcionam mais como um interlúdio cômico involuntário do
que qualquer outra coisa. **
24 – A
Entidade 2 (Sinister 2, 2015): o primeiro A Entidade se destacou em 2012
por apresentar uma história de terror que, apesar de derivativa, conseguia
prender pelo clima de mistério rondando seus personagens e situações. A
continuação, porém, consegue varrer para debaixo do tapete quaisquer sutilezas
existentes na premissa, tentando explicar o que deveria ser deixado
subentendido. Essa necessidade forçada em tentar expandir o universo criado
pelo filme original e dar motivações bestas ao seu vilão destrói qualquer boa
intenção dos realizadores. O que resta é um longa com raros sustos e uma
atmosfera de permanente enfado que consegue até mesmo tornar o ótimo
coadjuvante do primeiro filme (o detetive So & So, agora alçado à
protagonista) em uma figura genérica e totalmente dispensável. *
* 25 – Caçadores de Emoção: Além do
Limite (Point Break, 2015, em 3D): apesar de adotar a proposta certeira
de não tentar refilmar quadro a quadro a trama do filme original, é um remake
que deixa no meio do caminho todos os elementos que transformaram o longa de 1991
em um cult movie lembrado até hoje com carinho pelos cinéfilos. A nova trama,
tirando o nome dos personagens principais e do fiapo conceitual, pouco tem a
ver com a do Point Break original. E isso cobra um preço caro à produção. Se,
no Caçadores de Emoção dos anos 90, a motivação da quadrilha liderada por
Patrick Swayze ao assaltar bancos era, em suma, garantir o baseado do dia-a-dia
e patrocinar as viagens para os maiores picos do surfe, a nova produção
introduz uma justificativa mal-ajambrada que busca tornar os supostos vilões em
ativistas pela natureza, uma premissa que nunca é suficientemente bem explicada
pelo roteiro. Aliás, mesmo a justificativa para os crimes praticados pela trupe
é deixada de lado após meia-hora de filme, tornando todo o ponto de partida do
longa absurdo. Se, no original, a relação entre os personagens de Keanu Reeves
e Patrick Swayze era construída de forma suficientemente elaborada, em momento
algum desse remake parece crível a empatia entre os personagens, principalmente
porque o protagonista Luke Bracey é tão, mas tão ruim, que, em comparação,
Reeves parece um ator shakespeariano. A personagem feminina principal, na
contramão das produções atuais, é relegada à posição de secretária da matilha
de machos, um desserviço que ainda colabora para que seu destino seja
totalmente irrelevante dentro do roteiro, assim como o do parceiro policial do
protagonista, que no original era interpretado de forma carismática por Gary
Busey e aqui é totalmente desperdiçado na pele de um geralmente eficiente Ray
Winstone (Noé, Beowulf). Apesar da ruindade do texto, porém, o novo Caçadores
de Emoção funciona como um grande vídeo desses que passam na televisão a cabo
sobre esportes radicais. E, nesse ponto, o filme é certeiro. Todas as
sequências de ação são impressionantes e, em 3D, parecem saltar da tela,
tornando a experiência de certa forma recompensadora. O trabalho dos dublês é
tão fantástico que, nos momentos em que os esportes radicais invadem a tela, dá
para esquecer da trama horrorosa que lhes supostamente daria liga. **
26 -
Mississipi Grind (Mississipi Grind, 2015): muito boa essa produção
independente sobre vício em jogos de azar que lança um olhar original e que, ao
optar por dar ênfase nos personagens principais (o ótimo Bem Meldelsohn, de
Blue Ruin, e o astro Ryan Reynolds) em detrimento das cenas ambientadas em cassinos,
confere ao filme um ar intimista muito bem vindo. Além da trilha sonora
fantástica, que abusa de blues de qualidade, o ritmo é tão fluido que consegue
até que seu desfecho estranho e fora da curva pareça algo prazeroso. ****
27 – Sono
de Inverno (Kis Uykusu, 2014): sensacional filme turco que, durante mais de
três horas de duração, consegue fazer de uma história aparentemente simples uma
obra-prima de construção de personagens e ideias. Baseado vagamente em peças de
Chekov, é um ensaio sublime sobre a nossa vocação em fazer o “bem” sem que nos
demos conta do “mal” que fazemos cotidianamente. Também é um tratado muito
acurado sobre como a nossa sociedade está mal estruturada e as ideias do
roteiro soam ainda mais ferinas em tempos de redes sociais em que, com um
clique, se faz teoricamente uma boa ação capaz de expiar nossos pecados.
Brilhantemente interpretado por Haluk Bilginer, o protagonista é um amálgama de
nossas próprias idiossincrasias: um ex-ator, agora próspero gerente de um hotel
herdado, que pensa estar fazendo o bem ao escrever textos para um jornal que
quase ninguém lê. Um tratado sobre como as boas intenções não são suficientes
para modificar um mundo com tantas nódoas intrínsecas. E um belo registro de
nossas próprias dualidades. *****
28 –
Operações Especiais (2015, na Netflix): o diretor Tomas Portella já se
aventurara no cinema de gênero no terror psicológico Isolados, mas é aqui que
consegue aproveitar de forma plena a sua aptidão em fazer um longa comercial de
qualidade. As cenas de ação são muito bem encenadas e não devem nada a qualquer
produção americana. A protagonista interpretada por Cleo Pires é eficiente e o
coadjuvante de Marcos Caruso rouba as cenas em que aparece. É um filme que
funciona que é uma maravilha numa madrugada ou num domingo chuvoso, mas derrapa
vergonhosamente ao tentar trazer para o cinema brasileiro clichês
fundamentalmente americanos. A excessiva quantidade de chavões dos policiais
hollywoodianos, que não se adequam à nossa realidade, acaba por sabotar o
resultado de uma produção que, se não fosse por isso, resultaria em um longa
que cumpriria a tudo que se propõe. **
29 –
Preservation (Preservation, 2014, na Netflix): suspense de sobrevivência
que tenta incluir no manjadíssimo manual do gênero um subtexto de crítica
comportamental através da personalidade condenável de dois de seus três
protagonistas, que personificam o tipo de valentão que se vangloria do bullying
que fazia nos tempos do colégio e, na fase adulta, adora matar animais apenas
pela diversão. Acontece que ambos são tão, mas tão, insuportáveis que fica
difícil deixar de torcer para que os dois sejam executados imediatamente pelos
vilões da vez. A revelação da identidade dos algozes é um balde de água fria
para quem já viu exemplares do gênero muito melhores, como o inglês Sem Saída
(Eden Lake) e o francês Eles (Ils). Quase sem suspense e com cenas de ação
esquecíveis, a sobrevivência aqui é aguentar até o final, apesar da competente
atuação da mocinha Wrenn Schmidt. *
* 30 –
O Regresso (The Revenant, 2015, em IMAX): tal e qual a jornada
empreendida por Leonardo DiCaprio durante as mais de duas horas e meia de
projeção, O Regresso é um filme extenuante. Ao sair da sala de cinema, a
sensação é de que acompanhamos junto do protagonista as agruras e perrengues
enfrentados pelo personagem em sua busca de sobrevivência e vingança ao
atravessar o norte americano a pé, muitas vezes rastejando, durante o auge do
inverno (uma história real livremente adaptada pelo roteiro, diga-se). Virou
modinha entre certa parcela da crítica detonar Alejandro González Iñárritu depois
que o mexicano abocanhou o Oscar ano passado com Birdman. É interessante que
esse backlash (espécie de reação negativa que vem como uma onda atrasada após
um filme ou diretor obter uma quase unânime louvação por um trabalho anterior),
que já ocorreu com títulos como Titanic e Avatar, bem como cineastas como Spike
Lee e Christopher Nolan, geralmente nunca encontra uma explicação racional que
a justifique. Com O Regresso, o que fica evidente é que Iñárritu é um cineasta
que, goste-se ou não de suas criações, faz cinema de autor e que, até aqui, sempre
se mostrou irrequieto e propenso a arriscar em projetos muito distantes da
produção massificada de Hollywood. E O Regresso entrega exatamente isso. Ao
longo de sua projeção, não são poucas as escolhas acertadas (e arriscadas) do
diretor, como as impressionantes cenas de ação rodadas em um só take (o quase
plano-sequência que abre o filme é de cair o queixo), a opção em fugir do gênero
do western de vingança padrão ao justificar racionalmente certas atitudes do
vilão (um impressionante Tom Hardy que mereceu a indicação a coadjuvante pela
Academia) e ao truncar a narrativa através do registro paciente e cadenciado do
sofrimento do protagonista (um ótimo DiCaprio que, sim, merece levar o Oscar).
Há, é verdade, também equívocos menores no meio do caminho, como a inclusão de
um subtexto metafísico que soa deslocado e a reiteração de certos conceitos (a
ideia do Homem enquanto besta selvagem que faz parte da própria Natureza que destrói
é martelada talvez de forma excessiva para que o público mais desatento capte a
mensagem da produção). Nada disso é páreo, no entanto, para o que o longa
reserva em termos visuais: um espetáculo sensitivo absolutamente
irrepreensível, orquestrado a ferro e fogo pelo diretor de fotografia Emmanuel
Lubezki (Birdman, Gravidade, A Árvore da Vida). As tomadas concebidas por
Iñárritu e Lubezki ao retratar as paisagens naturais intocadas pelo Homem são
tão acachapantes que entram com facilidade no rol dos momentos mais belos já
vistos na História do Cinema, sem receio algum da hipérbole (a fotografia, para
quem não sabe, utilizou apenas luz natural, sem filtros ou qualquer forma de
iluminação artificial, feito que não era visto em uma superprodução desde Barry
Lyndon, de Stanley Kubrick, em 1975!!!). É esse show de imagens que grudam no
cérebro e causam imersão total na narrativa por quem se deixa levar pela
proposta adotada pela produção que torna O Regresso um trabalho memorável. E a
tão falada cena do ataque do urso é um triunfo de direção tão impressionante
que será lembrado por muito tempo tanto por fãs quanto por detratores de Iñárritu.
O Regresso é extenuante sim, mas o esgotamento vale cada centavo do ingresso. *****
31 –
Presságios de Um Crime (Solace, 2015): injustamente massacrado pela crítica
europeia, esse trabalho de estreia do brasileiro Afonso Poyart (2 Coelhos) em
Hollywood é um suspense até acima da média. Apesar do início de estrutura
genérica e com um ritmo cambaleante, aos poucos a produção introduz alguns
conceitos interessantes (a motivação do serial killer é especialmente original
e garante uma boa discussão pós-filme) e a atuação de Anthony Hopkins é
inspirada, o que empresta à produção uma grife que a destaca dos enlatados do
gênero. Felizmente, os virtuosismos excessivos de Poyart aqui aparecem de forma
contida, o que garante fluidez ao longa. Descamba para clichês aqui e ali, mas
ainda assim é um filme que, se não chega a ser memorável, ao menos não ofende a
inteligência do público. ***
32 –
Goosebumps: Monstros e Arrepios (Goosebumps, 2015): adaptação de uma série
de livros de terror juvenis populares nos EUA, é uma produção que resgata certo
clima clássico de Sessão da Tarde. A trama bobinha serve de mera desculpa para
colocar os protagonistas em combate contra uma horda de personagens saídos da
literatura de R. L. Stine, mas que são figurinhas carimbadas no imaginário
popular (o monstro gigantesco, os zumbis, os aliens e por aí vai). O grande
pecado é investir excessivamente em efeitos digitais (dois dos principais
antagonistas, um lobisomem e o Abominável Homem das Neves, são prejudicados
porque suas versões em CGI soam artificiais e simplesmente nunca convencem como
deveriam, algo que seria facilmente contornável com a opção em investir em
maquiagem e efeitos práticos, o que, aliás, combinaria muito mais com o clima
estabelecido pelo longa). Um filme que consegue entreter moderadamente enquanto
dura. ***
33 – Self/less
(Self/less, 2015, na Netflix): começa muito bem essa produção que conta com
uma premissa original e intrigante (o que aconteceria se nossa consciência
pudesse ser transmitida para outro corpo e nos possibilitasse viver para
sempre?). A boa ideia, entretanto, é totalmente desperdiçada por um roteiro
que, depois de uma competente meia-hora inicial, resolve descambar para os
chavões do cinema de ação, preenchendo a tela com tiroteios e brigas genéricos
que são esquecidos já nos créditos finais. Todos os desdobramentos morais
intrínsecos à situação central são simplesmente varridos para debaixo do tapete
em prol da narrativa mais comercial. Nem mesmo o habitual cuidado estético do
diretor indiano Tarsem Singh (A Cela, Imortais) dá as caras. Não aborrece
excessivamente, mas também não faz esforço algum para sair do lugar-comum. **
34 –
Atividade Paranormal: Dimensão Fantasma (Paranormal Activity: The Ghost
Dimension, 2015): se os primeiros filmes da franquia conseguiam provocar
sustos pela simples sugestão do que estaria acontecendo além de nosso campo de
visão, esse abacaxi aqui trafega no sentido inverso, escancarando as
assombrações e, consequentemente, esvaziando a própria razão de ser do filme.
Pior: o visual escolhido para retratar o demônio Toby e o poltergeist que
provoca na casa dos protagonistas é de uma infelicidade total: um CGI vagabundo
que provoca no máximo humor involuntário. Encerra (será mesmo? oremos) a
franquia de forma superficial e anticlimática. A pior forma de se perder uma
hora e meia de tempo de vida. *
35 – Bone Tomahawk
(Bone Tomahawk, 2015): é muito bom descobrir um trabalho que, ao mesmo
tempo em que nada mais é do que um exercício de cinema de gênero (no caso, tanto
de terror quanto de faroeste), consegue injetar sangue nos olhos na narrativa
tradicional do cinema americano. Conta com um ótimo quarteto de protagonistas
(Kurt Russell, repetindo o mesmo visual visto em Os Oito Odiados, mais Patrick
Wilson, Matthew Fox e Richard Jenkins) e um ritmo lento que, além de disfarçar
o orçamento pequeno, serve para estabelecer a personalidade de cada um de seus
personagens durante a narrativa e amplificar o impacto do excelente clímax, um
banho de sangue como há muito não se via na tela. Quem rouba o filme é Jenkins,
cuja composição cuidadosa de seu coadjuvante merecia ter sido lembrada na
temporada de premiações do ano. Funciona tanto como faroeste quanto como
terror. E, se piscar, dá para perder as pontas de Michael Paré (Ruas de Fogo),
Sean Youg (Blade Runner) e James Tolkan (De Volta Para O Futuro). ****
36 –
Circle (Circle, 2015, na Netflix): interessante variação da temática do
ótimo Cubo, o roteiro segue um punhado de personagens (nesse caso, 50 pessoas
com personalidades, etnias e características distintas) têm que escolher quem
será o próximo executado a cada dois minutos de projeção em um cenário
desconhecido e sem que tenham ideia alguma da forma como foram parar ali. O
roteiro foi inspirado pelo clássico Doze Homens E Uma Sentença e apresenta
discussões temáticas atuais e relevantes, como aquelas que envolvem a xenofobia,
o racismo velado e a falsa moralidade. Há grandes momentos durante seus enxutos
90 minutos de projeção, principalmente porque os debates entre os personagens soam
críveis em nossa sociedade contemporânea. É prejudicado por um desfecho frouxo
e abrupto que não faz jus ao texto que o precede, mas ainda assim é uma boa
descoberta. ***
37 – Amy (Amy,
2015, na Netflix): muito mais do que registrar o ocaso de uma revelação da
música, é um filme que, através de filmagens caseiras somente possíveis em um
mundo moderno e digitalizado como o do século 21, consegue introduzir várias
camadas de interpretação e explicação sobre os motivos que levaram Amy
Winehouse à morte precoce. Comprovando que é um cineasta de mão cheia, o inglês
Asif Kapadia (do excelente Senna) consegue ir a fundo tanto na carreira
meteórica quanto nos bastidores da transformação da adolescente Amy em uma diva
da música contemporânea. O registro é sempre agridoce porque todos sabem o
final da história e mesmo as pequenas vitórias (o primeiro single lançado por
uma gravadora, a consagração no Grammy) parecem prenunciar uma derrocada
psicológica e física que o terceiro ato se encarrega de retratar da forma mais
digna possível. É um filme que, mais do que simplesmente biografar a carreira
curta de sua protagonista, consegue tornar a trágica trajetória de Amy em exemplo
do que não se deve fazer com uma adolescente que, do dia para a noite, é
lançada ao estrelato. Escancara como a apatia paterna e materna e a voracidade
da mídia sensacionalista conseguem influenciar a mente de uma jovem que é
lançada sob os holofotes, bem como registra de maneira direta como a
popularidade em tempos de internet consegue amplificar as nossas fraquezas e
derrapadas. Um filme que versa muito mais sobre o efeito midiático sobre os
seres humanos postos sob o holofote do que um mero retrato da adição química.
Uma produção cujo objetivo é justamente alertar para que a tragédia pessoal de
Amy não ocorra novamente. E, no meio do caminho, consegue escancarar toda a
genialidade de uma alma única levada de nosso mundo prematuramente. *****
38 –
Piranha 2 (Piranha 3DD, 2012): se o remake (2010) de Piranha (1978) tinha
resultado em uma diversão trash que escancarava o absurdo da premissa do
original e ainda tirava o maior sarro das convenções do gênero terror, gerando
um filme muito engraçado que justamente se admitia como comédia, essa
continuação tenta dar continuidade à piada, mas sem a mínima noção de como
fazê-lo. Se, por um lado, há uma sequência específica que consegue emular o
clima de escracho da produção anterior (e que envolve uma pequena piranha
entrando na vagina de uma personagem e devorando o pênis de um de seus
pretendentes), no resto do longa o que se vê é um arremedo de trama sem
qualquer graça ou noção de autoparódia que nunca consegue equilibrar o grau de
ironia necessário à sua apreciação. A profusão de personagens e situações clichês
acaba tornando o longa aborrecido e, em certos momentos, enervante. Até mesmo o
banho de sangue reservado para o final é rodado de forma genérica e, portanto, decepcionante,
o que elimina justamente o elemento que remotamente pudesse significar a sua
redenção. Agora, justiça seja feita, a participação especial de David
Hasselhoff é tão divertida que eu não me importaria de assistir a um spin off
inteiramente centrado em seu personagem. *
39 – Um Senhor
Estagiário (The Intern, 2015): Robert De Niro parece topar tudo o que lhe
oferecem ultimamente. Nas últimas duas décadas, um dos maiores atores da
História do Cinema pagou mico em tantas produções que é difícil enumerá-las
tamanha é sua reincidência em projetos rasteiros, principalmente comédias
escritas aparentemente por um software hollywoodiano. Em Um Senhor Estagiário,
pelo menos, De Niro não passa vergonha e é de longe o melhor elemento presente
no longa. É a simpatia de seu personagem que dá algum resquício de alma ao
projeto, mais um trabalho da diretora Nancy Meyers (Do Que As Mulheres Gostam,
Alguém Tem Que Ceder) que guarda em seu cerne um posicionamento antiquado e
conservador sobre a posição das mulheres, principalmente no mundo moderno (as
piadinhas sobre uma suposta ereção do protagonista e a função do lenço que
carrega consigo soam misóginas sem que a cineasta perceba o desserviço que presta
ao próprio trabalho). Com essas gags machistas e uma propensão à sacarose, é um
filme a que se assiste sem qualquer sobressalto, mas que também não emociona
nem faz rir como deveria. Nova Iorque, no entanto, permanece fotogênica como
nunca, uma das melhores características da cinematografia de Meyers. **
40 – O Corvo
(The Raven, 2012): o diretor James McTeigue despontou com o ótimo V de
Vingança, em 2005. Diretor de segunda unidade da trilogia Matrix, a lenda é de
que os produtores, os irmãos Wachowski, teriam colocado a mão na massa em sua
estreia como diretor. Esse O Corvo parece confirmar a desconfiança. Depois do
execrável Ninja Assassino, a produção confirma a falta de habilidade de
McTeigue para conduzir sozinho um longa com um mínimo de estrutura narrativa.
Tenta a todo momento seguir o mesmo ritmo do muito bom Do Inferno, mas sem
conseguir atingir sequer uma nota que seja no tom adequado. É uma história que
relega Edgar Allan Poe a uma figura unidimensional e histriônica (há momentos
em que John Cusack se aproxima perigosamente o overacting de Nicolas Cage, por
exemplo), além de entregar uma traminha de suspense sem qualquer tensão ou
surpresa. Um desperdiço de tempo que nem a correta direção de arte consegue
tornar assistível. *
41 – Clown
(Clown, 2014): dirigido por Jon Watts (do ótimo A Viatura), é um longa
baseado em um curta do mesmo diretor. A tentativa de extensão do tema torna
evidente que a premissa caberia muito mais em um episódio de Além da Imaginação
do que em um longa-metragem, mas o cineasta e roteirista consegue conceber uma
produção que, se não chega a subverter o gênero em que se insere, pelo menos
segue a cartilha do terror com competência. A opção pelo gore é bem-vinda e o
fato de não haver concessão ao retratar crianças sendo assassinadas (aliás,
devoradas) pelo protagonista representa uma subversão às regras estabelecidas
para as grandes produções. Tenso, relativamente sangrento e com boas atuações,
é um filme que surpreende não por revolucionar o gênero, mas por homenageá-lo
de forma eficiente. ***
42 –
Mistress America (Mistress America, 2015): o diretor Noah Baumbach (Frances
Ha, Enquanto Somos Jovens, A Lula E A Baleia) é um dos cineastas que melhor
consegue versar sobre a nova geração dos hipsters sem esquecer de suas raízes
oitentistas. É justamente esse amálgama formado entre a modernidade e suas
referências geracionais que faz do seu trabalho algo absolutamente original
dentro da cinematografia contemporânea. Se, no excelente Frances Ha, o seu foco
foi concentrado na nova geração, em Enquanto Somos Jovens abordou forma com que
esses novos jovens adultos se relacionam com (e mimetizam) os agora adultos
nascidos na década de 70 e que foram influenciados em sua formação pela década
de 80. Em Mistress America, o diretor volta a tocar em pontos reiterados em sua
carreira (o fracasso profissional, um tema recorrente em seus trabalhos), mas
forma um interessantíssimo híbrido entre a visão pessimista (do ponto de vista
prático) de Frances Ha e a emotividade de Enquanto Somos Jovens. Se, no
primeiro momento, as atrizes Lola Kirke (uma lindíssima e ótima descoberta) e
Greta Gerwig (esposa do diretor e coautora do roteiro) parecem personificar o
bem e o mal em nossa sociedade, no segundo ato, quando o filme abraça uma
louvável homenagem às screwball comedies dos anos 30, essa impressão é
invertida de maneira muito inteligente. Além de o roteiro falar com propriedade
sobre o fracasso que nos segue feito fantasma durante a vida, também consegue
apontar para um desfecho que, se não é o final feliz das histórias da Disney,
ao menos consegue encapsular a lanterna dos afogador que todos os jovens de
qualquer idade precisam para seguir a sua jornada. E as músicas escolhidas para
embalar a trilha sonora conseguem agradar tanto a velhos quanto novinhos de
forma inteligente. ****
42 –
Brooklyn (Brooklyn, 2015): patinho feio do Oscar 2016, é um filme que encanta
justamente por sua simplicidade temática e narrativa. Não tem o vigor que alguns
de seus concorrentes imprime de forma explícita na tela, mas é tão bonito em
sua quase ingenuidade que a sensação ao final da sessão é de plena satisfação.
Mesmo que a virada de sua personagem principal ao final da produção soe
apressada e pouco justificada, o que se viu até ali compensa a trajetória
através da ótima dramaturgia e da empatia com que o elenco defende os seus
personagens, por mais periféricos que sejam (Julie Walters, de A Educação de
Rita e Billy Elliot, simplesmente rouba todas as cenas em que aparece).
Conduzido por uma ótima Saorsie Ronan, a produção consegue encantar por meio de
seus coadjuvantes adoráveis e uma história que, se não é exatamente original,
conquista a empatia do público instantaneamente em seus primeiros minutos de
projeção. O roteiro de Nick Hornby é ferramenta muito eficaz nesse momento, o
que comprova que o autor de livros como Alta Fidelidade, Um Grande Garoto e
Febre de Bola conseguiu fazer uma transição impressionantemente boa entre o seu
currículo literário e a escrita de roteiros para o Cinema (são dele também os ótimos
textos de Educação e Livre). Brooklyn também conta com um formidável trabalho
de direção de arte, em que o belíssimo figurino da protagonista acompanha a
jornada psicológica da personagem (e acompanhar a alternação entre os verdes e
azuis que veste é um atrativo à parte para quem captar a mensagem). Um filme
muito bom que, se de certa forma “roubou” o lugar de outros longas superiores
no rol dos indicados a melhor filme no Oscar 2016 (Os Oito Odiados, Ex Machina,
Creed e Carol), conquista pela beleza de sua estrutura dramática simples, mas
cativante. ****
43 – A Casa
Silenciosa (Silent House, 2011): refilmagem americana do bom terror
uruguaio A Casa (La Casa Muda, 2010) que apenas comprova a velha máxima de que Hollywood
precisa urgentemente parar com essa mania de tentar mexer em obras de qualidade
(e isso que o original nem era lá uma Brastemp) apenas pela preguiça do público
ianque em ler legendas. Esse A Casa Silenciosa até possui alguns atributos,
sendo a boa atuação de Elizabeth Olsen o mais evidente (dá para sentir a
angústia de sua personagem de ponta a ponta, mesmo quando a reiteração de seu
pavor soa irritante). Porém, sua estrutura apenas repete, às vezes quadro a quadro,
o falso plano-sequência da produção uruguaia. Arranca alguns sustos aqui e ali,
mas todas as vezes em que muda algo do roteiro original acaba diluindo as
ideias e o impacto da trama, tornando-o nada mais do que um filme convencional
e rapidamente esquecível. Um desperdício de dinheiro que poderia ter sido
investido em uma produção original. **
44 – The Woods (The Woods, 2015): lançado originalmente como The Woods em seu
país de origem (Irlanda), a produção rodou o mundo com o título de The Hallow. Verdadeira
carta de amor aos filmes de monstro produzidos no passado, é um trabalho cujo
roteiro e trama simplórios surgem como meros catalizadores para o verdadeiro
objetivo de seus realizadores: prestar reverência aos grandes mestres dos
efeitos visuais e maquiagem práticos,
principalmente Ray Harryhausen (Fúria de Titãs original, Jasão e O Velo de
Ouro) e Stan Winston (O Exterminador do Futuro, O Enigma do Outro Mundo), ambos
citados nominalmente durante os créditos finais. O permanente clima de tensão
funciona muito bem e as criaturas imaginadas pelo diretor Colin Hardy encantam tanto
pela originalidade quanto pelo medo que provocam. O conceito do filme também
funciona que é uma maravilha ao lançar mão de lendas irlandesas e célticas para
construir o seu cenário fantástico. Para quem cresceu assistindo filmes de
terror escondido dos pais nos anos 80, é uma ótima viagem de volta a um tempo
em que as produções eram feitas a látex e tinta e os computadores eram ainda
uma ferramenta estranha à Sétima Arte. Uma belíssima e surpreendente ode a
clássicos do gênero. ****
45 –
Cleveland Abduction (Cleveland Abduction, 2015): telefilme que demonstra
total inaptidão narrativa ao abordar um caso real assustador (a abdução de
mulheres que viram reféns de um maníaco por mais de uma década), mas centrar o
foco erroneamente apenas nas torturas impostas às vítimas ao longo dos anos. O
resultado é uma produção que mais irrita do que choca, revelando-se um
exercício de sadomasoquismo cinematográfico cansativo e com desfecho piegas.
Para piorar, a protagonista Taryn Manning (do seriado Orange Is The New Black)
não tem idade nem aparência adequadas para interpretar uma jovem recém saída da
adolescência, o que confere uma artificialidade incômoda e bizarra à sua
atuação. *
46 –
Lendas do Crime (Legend, 2015): Tom Hardy é o grande destaque dessa
produção correta, mas convencional demais, sobre dois irmãos gêmeos que
dominaram o crime organizado na Londres da década de 60. É a sua atuação
complexa e muito convincente ao criar dois personagens de personalidades
distintas (e mesmo opostas em certos momentos) que sobressai aqui e revela-se
muito mais eficaz do que o roteiro acadêmico, que da metade para o final dá uma
bela decaída. No final das contas, não há nenhum feito ou fato com impacto
suficientes para justificar a alcunha de “lendas” atribuída pelo título aos
biografados. A direção de arte e os figurinos reproduzem muito bem a época
retratada e o ritmo é correto, mas, no final das contas, de memorável aqui só a
interpretação de seu ator principal. ***
47 – Um Deslize
Perigoso (Dope, 2015): misturar no mesmo caldeirão o clima de Gatinhas e
Gatões (Sixteen Candles) com a ambientação de Os Donos da Rua (Boys n The Hood)
soa estranhíssimo e um provável convite ao fracasso, mas não é que essa ótima
comédia de Rick Famuyiwa (No Embalo do Amor) consegue fazer um tributo afetuoso
à filmografia de John Hughes sem perder o gingado dos guetos de Los Angeles?
Trocando as referências oitentistas tão em voga nas comédias americanas atuais por
uma profusão de citações à década de 90, Dope é uma produção tão simpática e inovadora
que consegue transcender o nicho de público a que os filmes dirigidos e
protagonizados por afroamericanos geralmente é relegado. Muito da simpatia do
filme pode ser depositada na conta de seu adorável protagonista, Shameik Moore,
um nome a ser acompanhado de perto nos próximos anos. A ousadia em colocar no
liquidificador uma trama que aborda o tráfico de drogas, o preconceito racial e
jovens nerds poderia até soar incompatível na teoria, mas na prática resulta em
um filme envolvente, leve e com um vigor narrativo que salta aos olhos. E, para
deixar claro que de bobinho o longa não tem nada, a carta mandada pelo
protagonista ao final do filme é precisa e ressonante em escancarar a mensagem
pretendida por seus realizadores. ****
* 48 –
Deadpool (Deadpool, 2016): se Deadpool fosse personagem de um seriado
animado, certamente faria parte da turma dos Tiny Toons, a adorável série dos
anos 90, produzida por Steven Spielberg, que ousava na forma narrativa e
abusava da metalinguagem para criticar de forma hilariante os clichês da
indústria do entretenimento. Considerando que Deadpool é um personagem da
Marvel e o filme é produzido pelo mesmo estúdio (Fox) que deu ao mundo o
equivocado Quarteto Fantástico de 2015, é surpreendente que uma produção tão
ousada tenha visto a luz do dia tal e qual foi concebida (e se transformado nesse
enorme sucesso de crítica e público). Ryan Reynolds, depois de fracassar
miseravelmente em quatro tentativas anteriores em incorporar um personagem dos
quadrinhos nos horrorosos Blade: Trinity, X-Men Origens: Wolverine (fazendo um
Deadpool totalmente diferente, o que inclusive é motivo de uma ótima referência
aqui), Lanterna Verde (também motivo de piada na produção) e R. I. P. D. –
Agentes do Além, consegue finalmente acertar o tom como um dos protagonistas
mais insanos que se poderia imaginar dentro do subgênero dos filmes de
super-herói. Acertadamente apostando as fichas no ótimo timing cômico que
Reynolds sempre possuiu e que geralmente era desperdiçado em produções
mequetrefes, Deadpool é uma produção que não tem vergonha na cara (e isso é
ótimo). Mesmo com um fiapo de roteiro e um orçamento reduzido (o que fica
evidente nos toscos efeitos visuais de seu clímax), é um filme que encanta em
sua disposição em usar as gags metalinguísticas para escancarar os clichês das
superproduções de Hollywood (e o próprio fato de tirar sarro inclusive das
limitações dramáticas de seu ator principal já é um sinal mais do que evidente
de que se trata de um filme que não tem medo de experimentar os limites da
quebra da chamada quarta parede). Repleto de referências aos anos 80 (Wham!,
Ferris Bueller!) e com um senso de humor que o afasta de toda e qualquer
produção de super-heróis já produzida, representa uma revolução narrativa muito
bem-vinda e cujo êxito vai obrigatoriamente obrigar os estúdios a mudanças de
estratégia. Deadpool é um tapa na cara do “mais do mesmo” apresentado ano após
ano pela Marvel Studios e da sisudez excessiva das novas produções da DC
Studios. É o Pica-Pau maluco dos filmes de super-heróis. E só entende essa
referência quem conseguiu captar, em Deadpool, as citações à antiga banda de
George Michael e a Curtindo A Vida Adoidado. ****
* 49 –
O Quarto de Jack (Room, 2015): uma das produções mais belas dos últimos
anos, O Quarto de Jack compreende que a abordagem de um crime horrendo não
precisa ser feita a partir da violência física empregada (o que o telefilme
Cleveland Abduction, também de 2015, equivocadamente deixou de captar). Narrado
sob o ponto de vista do pequeno Jack (a revelação Jacob Tremblay, que merecia
ter sido indicado ao Oscar e poderia inclusive melar a festa de DiCaprio),
nascido dentro do minúsculo quarto em que sua mãe era mantida aprisionada há
anos, é uma produção que se preocupa com as cicatrizes psicológicas e
emocionais das vítimas e isso faz toda a diferença. É tocante como o pequeno
Jack consegue enxergar seu cativeiro como um planeta em si, o que rende as
sequências mais emocionantes do filme e uma ótica particular que é
brilhantemente retratada pela excelente direção de arte e pela magnífica fotografia,
que amplia e diminui o espaço reduzido do quarto que dá título à produção de
forma impressionante apenas alterando enquadramentos e o foco da câmera. O
Quarto de Jack também impressiona pela opção acertada em não dar a seus
sofridos protagonistas uma redenção mágica e convencional, abordando as máculas
psicológicas do aprisionamento de forma complexa e que nunca escorrega para o
piegas. Um belíssimo trabalho. ****
50 –
Benção Mortal (Deadly Blessing, 1981): título esquecido e pouco visto do
saudoso mestre Wes Craven, é um eficiente suspense com toques de terror que
aborda o fanatismo religioso de forma muito incisiva para a época em que foi
lançado. Conta com coadjuvantes de peso (Ernest Borgnine e uma jovem Sharon
Stone) e traz cenas emblemáticas, principalmente a da banheira, refilmada
posteriormente pelo próprio diretor no primeiro A Hora do Pesadelo. Tem sustos
que funcionam, uma atmosfera permanente de suspense e uma cena final que,
imposta pelo estúdio e renegada por Craven, surpreendentemente representa uma
reviravolta eficaz e que funciona dentro do contexto do longa. Um filme que
merece ser redescoberto. ***
* 51 –
Como Ser Solteira (How To Be Single, 2016): a julgar pelo roteiro, é
assustador que o livro adaptado tenha se tornado um fenômeno literário
entre o público feminino jovem. A produção tenta se esconder sob o
disfarce de uma premissa que supostamente apresentaria uma visão moderna
sobre o papel da mulher na sociedade, mas, ao contrário, presta tributo
aos chavões machistas de toda e qualquer comédia romântica rodada nas
últimas décadas. As quatro “protagonistas” (uma
delas, interpretada pela lindíssima Alison Brie, sequer interage com as
demais) formam um quarteto que sintetiza os mais surrados clichês do
gênero: a jovem inconformada pelo final de um relacionamento, a jovem em
busca do príncipe encantado, a jovem liberal que leva uma vida regada a
álcool, sexo descompromissado e festas e a trintona workaholic que não
tem tempo nem disposição para se apaixonar. O elemento comum a todas as
personagens, entretanto, é que estão em busca de um
namorado/marido/companheiro. Ou seja: é uma produção tão equivocada que,
por baixo de uma carapaça aparentemente feminista, insiste na
equivocada ideia de que toda mulher precisa necessariamente de um homem a
seu lado para se sentir plena. Essa ótica míope acaba por contaminar
quaisquer boas intenções do roteiro, que até nos desfechos aparentemente
“diferentes” reservados para as personagens acaba por se embaralhar (o
último frame da produção, uma olhada para trás da personagem principal,
praticamente soterra o que o texto e as imagens que lhe antecedem
poderia significar enquanto independência emocional da protagonista, por
exemplo). A verdade é que as personagens nunca ganham qualquer camada
que poderia lhes diferenciar do lugar-comum (não há qualquer aspiração
maior para uma mulher do que a busca do par perfeito, parece gritar o
filme a cada cena). A direção não é de todo ruim e há boas piadas aqui e
ali, sendo quase todas protagonizadas por Rebel Wilson, atriz
australiana com bom timing cômico, mas que é mais uma vez relegada ao
estereótipo da “gordinha vida louca” que já vivera nos dois A Escolha
Perfeita e no terceiro Uma Noite No Museu. O problema é que a sensação
que fica (apesar do aparente sucesso que fez parte do público aplaudir
ao final da projeção na sessão em que assisti, o que me assombrou) é que
apenas reafirma a superficialidade do registro feminino moderno,
firmado nos pilares da busca da beleza estética, do fashionismo e de
ideais antiquados. Na opinião desse homem aqui, um desserviço bárbaro
para o registro do papel da mulher na sociedade em qualquer época. **
52 –
Visões do Passado (Backtrack, 2015): bem que poderiam produzir um
documentário no estilo de What Happened, Miss Simone? sobre a carreira de
Adrien Brody. Depois de ganhar o Oscar por O Pianista, o até então promissor
astro se viu relegado a protagonista de produções medíocres e que raramente
conseguem sequer lançamento nos cinemas. Esse Visões do Passado é mais um na
série de enlatados que Brody aceitou participar e que não faz jus ao talento do
ator, que até está bem em cena, diga-se de passagem. Há alguns sustos eficazes
e a produção não é lá tão furreca, mas é um pastiche de O Sexto Sentido cuja primeira
reviravolta é telegrafada desde a primeira cena. Para piorar, reserva uma
virada final que é tão artificial e improvável que praticamente soterra a trama
em clichês mais afeitos aos telefilmes que passavam na Supercine da Globo na
década de 80. **
53 –
Straight Outta Compton: A História do N. W. A. (Straight Outta Compton, 2015):
produzido por Ice Cube, Dr. Dre e pela viúva de Easy-E, essa cinebiografia
consegue, muito mais do que simplesmente retratar o surgimento e apogeu da
banda N. W. A., registrar o momento social que levou o gangsta rap a se
popularizar entre o final da década de 80 e começo dos 90`s. Dirigido de forma
visceral por F. Gary Gray (Sexta-Feira Em Apuros, A Negociação, Uma Saída de
Mestre), é um filme que transborda atitude, postura ideal para dar cabo de um
tema socialmente complexo como a gênese do rap entre as comunidades pobres da
periferia de Los Angeles. Se Gray se mostra o cineasta ideal para dar voz e
rosto aos indivíduos pobres que, vivendo em um ambiente dominado pela
criminalidade, conseguiram encontrar na música um meio de fuga e protesto contra
o racismo de que sempre foram vítimas, é no elenco irrepreensível que o longa
encontra sua base ideal. A
trinca Corey Hawkins (Dr. Dre), Jason Mitchell (Easy-E) e O´Shea Jackson Jr. (que
interpreta o próprio pai, Ice Cube, e surpreende além da impressionante
semelhança física) manda muitíssimo bem e é a razão por trás da imediata
empatia com que o filme conquista o público, mesmo aqueles que, como eu, nunca
foram fãs de rap ou hip-hop. Ironicamente, a única indicação ao Oscar que a
produção conseguiu foi a de roteiro, de longe o elemento mais frágil da produção
(e escrito por dois dos únicos brancos envolvidos na produção). De fato, o
texto é longo demais e a excessiva metragem de quase 3 horas acaba por cobrar
um preço alto da metade para o final (40 minutos a menos tornariam ainda mais
potente a mensagem pretendida pelos realizadores). E também é evidente a forma
como certos fatos são atenuados pelos produtores, principalmente a ficha
criminal de alguns dos protagonistas. Nada, porém, que estrague a experiência,
um dos melhores títulos já produzidos sobre o tema e um importante libelo
contra o racismo e a exclusão social. ***